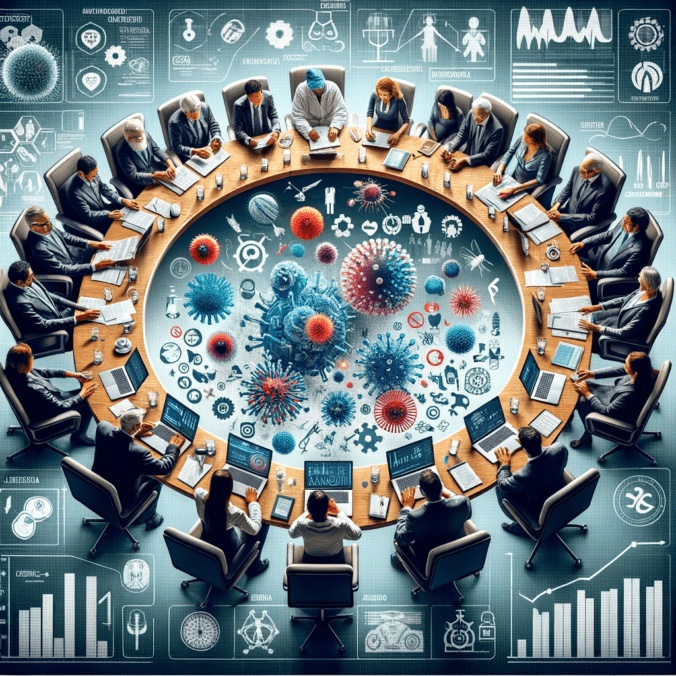O debate acerca do aumento da sífilis congênita no Brasil e no mundo traz alguns desafios para a saúde pública e para a Bioética. Como intervir para minimizar a ocorrência da doença?
Esse debate é importante para a Bioética porque precisamos estabelecer balizas claras acerca dos limites e possibilidades de intervenção. Há um incremento de casos de sífilis congênita, é fato; mas é justo a responsabilização da mãe?
A era da tecnologia facilitou o acesso à informação e a formação de opiniões em tempo recorde. Apesar da velocidade fugaz de notícias ter sido facilitada pela Internet, com disponibilidade e acessos globais, também se tornaram evidentes os argumentos de autoridade entre um clique e outro. Afinal, o ser humano tende à necessidade de ser o detentor de razões éticas e morais rebuscadas, dotadas de tecnicismo – ou não. Mais do que nunca, vivemos em velocidade 2.0.
Nossa análise crítica se inicia dessa maneira pelo seguinte motivo: as informações nem sempre correspondem à realidade social, ou possuem precisão científica nas afirmações divulgadas. No que tange à posição na escala social e à autonomia da mulher, o debate científico sobre como cuidar da própria saúde se traveste de argumentos, não raro, ancorados na suposição de que é natural a imposição de uma determinada moralidade. A constatação central é que o discurso da moralidade precisa ser questionado sempre na perspectiva de uma ética mínima inclusiva e respeitadora dos Direitos Humanos, o que talvez seja o maior desafio dos cuidados em saúde da mulher.
Na retórica do planejamento em saúde, em que pese os avanços no acesso e cuidado em saúde no século XXI, “estudos realizados para avaliar os estágios de implementação da política de saúde da mulher demonstram a existência de dificuldades na implantação dessas ações”1. Um dos obstáculos enfrentados para garantia de saúde da mulher é a vinculação direta do que se entende como saúde feminina, apenas sob a ótica gestacional. Essa percepção gerou embaraços na saúde e rediscussões políticas, visto que as mulheres não possuíam assistência nos demais momentos da vida, numa perspectiva reducionista da saúde feminina2
Não é a primeira vez que se tenta resumir o papel da mulher a instrumento reprodutivo e responsável pela viabilidade fetal. Entretanto tal assertiva pode ser contestada tanto na seara da Bioética, quanto do Direito brasileiro.
Adotando a racionalidade e a liberdade da vontade como núcleo conceitual de pessoa autônoma, como no caso das mulheres que recusam tratamento, somos então capazes de refletir por meio da razão e da vontade para a tomada de decisão3. Possuímos, diferentemente de outros animais não humanos, o caráter de interferir na consequência de nossas ações e pensamentos.
Se somos capazes de nos autodeterminarmos, “ser uma pessoa é não apenas ser uma entidade a qual atribuímos predicados físicos e mentais, mas ainda ser capaz de refletir sobre suas ações […] e ser capaz de determiná-las de acordo com seus próprios fins”4. Sendo assim, cabe questionar que razões teríamos para considerar um crime uma possível recusa da mulher a se tratar no caso de estar grávida e receber o diagnóstico de sífilis? Poderíamos questionar que os parceiros, como pessoas também autônomas, teriam o direito de saber e decidir acerca do tratamento, mas um feto não pode ser considerado como uma pessoa autônoma.
Por outro lado, a alternativa retórica que surge para resguardar o feto se debruça nos limites de início de vida. Mais uma vez, as discussões sobre qual teoria é majoritária no ordenamento brasileiro atravessam o campo ético, filosófico e religioso. Para fins de análise, não será considerado o argumento religioso, uma vez que é válido somente para os praticantes.
Dessa forma, iniciamos a análise de início de vida pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº442. Em seu voto, a Ministra Rosa Weber tece fundamentos ao direito à vida sob o prisma do Direito Civil e Penal, concluindo da seguinte maneira:
“Vê-se, nesse cenário argumentativo, que o conceito de vida, não delimitado pelas normas civis e penais, tratado como presença de atividade cerebral pelo Biodireito, é entendido, no âmbito do Direito Constitucional, como direito atribuído às pessoas nascidas, titulares de direitos fundamentais, cuja proteção é incremental, a depender da relação com outros direitos.” (Grifo nosso).5.
A partir da leitura do trecho, é possível extrair o entendimento de que o início da vida, para fins legais e de garantia de direitos fundamentais, possui como condição o nascimento da pessoa com vida. Considera, então, o início de vida a partir do nascimento, uma vez que o nascituro, caso não chegue a nascer, não produzirá efeitos jurídicos, por falta de personalidade civil².
Afinal, “nem da literalidade dos textos internacionais, nem da jurisprudência e da prática internacional, a inferência de que exista fundamento suficiente […] em reconhecer titularidade do direito fundamental aos nascituros”6. Sendo assim, a viabilidade fetal, anterior e intencionalmente trazida ao debate, não sustenta a tese de proteção ao feto, tanto na hermenêutica jurídica quanto na análise bioética.
Para a Bioética, desde o clássico artigo de JJ Thomson, Uma defesa do aborto, publicado em 1971 já se apresentava a inadequação de configurar a obrigação da mulher na manutenção da saúde do concepto.
Em suma, buscando não estender a análise para além do necessário, afirmar que uma gestante com sífilis é desertora e negligente por recusar o tratamento, sob argumentação de proteção ao feto, retira da gestante a possibilidade de autodeterminação e, mais ainda, a torna única responsável pela doença do filho.
Deve-se, antes de tudo, e em primeiro lugar, perguntar: existiu a conduta de recusa ao tratamento pela mulher? Caso positiva a resposta, a gestante é, de fato, desertora por exercer a sua autonomia de vontade? Sob o ponto de vista da saúde pública, as informações acerca da doença e os medicamentos para o efetivo tratamento adequado estão disponíveis? Como se dá o acesso e como essa mulher é acolhida pela equipe de saúde?
A questão fundamental é que é responsabilidade da saúde pública disponibilizar tratamento e proteger os enfermos. O sistema de saúde é acessível a todos? Não existem problemas de acesso ao pré-natal? E se não tem medicamento disponível? Tudo isso precisa ser pontuado para desonerar a mulher da suposta responsabilidade.
∗ Colaborou Marisa Palácios

Advogada com inscrição ativa no estado do Rio de Janeiro. Mestranda em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela UFRJ. Pós-graduanda em Direito Financeiro e Tributário pela UERJ. Atualmente, concentra sua pesquisa acadêmica no escopo de saúde da mulher gestante acometida de sífilis, com ênfase nos desdobramentos bioéticos e repercussões na saúde coletiva, visando estratégias de saúde para atendimento desse grupo.
Imagem gerada por Inteligência Artificial
- BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Mulher: Princípios e Diretrizes. Brasília: Editora MS, 2004 [↩]
- Id. ibid. [↩]
- DIAS, Maria Clara (Org). Bioética: Fundamentos Teóricos e Aplicações. Curitiba: Editora Appris, 2017; p. 64 [↩]
- Id. ibid [↩]
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 442. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514619&ori=1. Acesso em: 17 de nov. 2023.; P. 27 [↩]
- WEBER R., p. 37, 2023 [↩]